Os levantes contra os registros de 1852
Transcrição do documento:
Decreto N.º 797 de 18 de Junho de 1851
Manda executar o Regulamento para a organização do Censo geral do Império.
Com virtude do disposto no § 3.º do Artigo 17 da Lei n.º 586 de 6 de Setembro de 1850: Hei por bem que se proceda à organização do Censo geral do Império pela maneira disposta no Regulamento, que com este baixa, assignado pelo Visconde de Monte Alegre, do Meu Conselho d’Estado, Presidente do Conselho dos Ministros, Ministro e Secretario d’Estado dos Negócios do Império, que assim o tenha entendido e faça executar.
Palácio do Rio de Janeiro em dezoito de Junho de mil oitocentos e cinquenta e um, trigesimo da Independencia do Império.
Visconde de Monte
Reg. n.º 129 do Livro 1.º dos Actos Legislativos
● Artigo escrito por:
Barbara Moraes - Doutoranda em Antropologia Social - Museu Nacional, UFRJ
Entre dezembro de 1851 e fevereiro de 1852, nos anos de organização do registro civil[1] e do primeiro censo do Brasil[2], diversas províncias viveram meses conturbados de levantes que aconteciam de forma dispersa em Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Ceará e Minas Gerais, sem uma aparente liderança organizada. Esses levantes ficaram conhecidos pela historiografia como as revoltas contra o registro de nascimentos e óbitos ou, segundo Mário de Mello (1920), a Guerra dos Marimbondos (PE) e Ronco-da-Abelha (PB) em referência aos zumbidos que as sedições faziam. Elas se opunham ao conjunto de decretos promulgados para serem executados a partir de 1º de janeiro de 1852. Considerados menores em relação à histórica Revolução Praieira de Pernambuco, os levantes de 1852 podem ser lidos como mobilizações que contestavam a consolidação de novas rotinas da administração imperial, como o registro civil e suas formas de gestão da vida e morte nas províncias, assim como o recenseamento populacional e suas relações com a administração de identidades e propriedades.
Com os documentos disponíveis da época - publicações no Diário de Pernambuco, documentações do Arquivo Estadual de Pernambuco, correspondências da Série Interior - Negócios de Províncias e Estado (IJJ9), Sério Justiça - Gabinete do Ministro (IJ1) e Decretos do Executivo Imperial (22) do Arquivo Nacional - é impossível reconstituir as relações precisas de causalidade que levaram as pessoas às ruas e portas das igrejas, portando armas, rasgando os editais afixados nas paredes e impedindo a leitura dos decretos nas paróquias. Uma vez que os documentos não são testemunhas imparciais dos acontecimentos históricos, é possível pensá-los como agentes que participavam da produção da burocracia imperial, fazendo circular a perspectiva de uma elite letrada e promovendo uma pedagogia dos acontecimentos ao inscrevê-los sob determinados signos (Hull, 2012; Mbembe, 2002). Esse foi o caso dos levantes de 1852, vistos por meio de avisos, circulares e decretos imperiais ou de correspondências enviadas por presidentes de província, como Vitor de Oliveira (Pernambuco), à Secretaria de Negócios do Estado do Império. Acompanhar esses documentos é investigar, por um lado, a perspectiva de uma elite letrada a respeito das classes mais pobres e suas relações com os registros de Estado, e, de outro, a arquitetura burocrática que se edificou por meio da produção e da circulação de papéis imperiais e dados populacionais (Moraes, 2023). Trata-se, então, de olhar para uma dimensão menos heroica ou grandiosa dos acontecimentos ao focar nos elementos constitutivos cotidianos das práticas de Estado e nas formas de resistir e negociar com o mundo dos registros burocráticos colocadas em evidência pelos levantes de 1852.
O registro civil e censo de 1852
O registro de nascimentos e óbitos, conhecido também como registro civil, foi promulgado pelo decreto 798 de junho de 1851, no qual a inscrição dos nascidos e mortos passaria a ser realizada nos livros distribuídos pelos Distritos de Paz através da figura do Escrivão. Segundo o decreto, os nascidos deveriam ser registrados no prazo de 10 dias desde o seu nascimento pelos pais. Ele contemplava o reconhecimento de filhos ilegítimos, quando fosse esse o caso, e a inscrição pelo senhor do recém-nascido, quando este fosse um filho de escravizado. Além disso, informações como profissão e domicílio dos pais e tribo ou nação a que pertencia, no caso de crianças indígenas, também deveriam ser fornecidas no ato do registro. Quando nascida escravizada, a criança seria inscrita sob autoridade do senhor de seus pais, declarando-se o seu nome, dia e hora do nascimento, sexo, cor, nome dos pais, se solteiros ou casados, e se no ato do registro se conferiria liberdade à criança ou não. O ato do registro não pode ser lido, então, apenas como a inscrição de informações, mas como um ato que produz e reafirma uma condição. Ser declarado escravizado quando nascido implica a reiteração de uma condição legal e de uma posição nas hierarquias sociais.
No livro dos mortos seriam inscritos, segundo o decreto 798, os registros dos falecidos. Suas mortes deveriam ser declaradas em até 24 horas após o acontecimento. As causas da morte e as informações da família seriam detalhadas ao Escrivão, de modo que o acontecimento pudesse ser apurado. A apuração da morte era um privilégio das pessoas livres. Para os escravizados registrados, a declaração de seu nome, idade, cor, naturalidade, ofício que exercia, doença da qual faleceu e as informações de seu senhor seriam o suficiente. Sua morte não seria investigada. A assunção de que morreu de uma doença, enquanto ao livre se assume a possibilidade de ter sido morto, nos mostra que mesmo morrer é um ato que inscreve os corpos em uma geografia das desigualdades. Sua morte nunca identificada, sua morte sem autor, inscreve sua posição de cativo nos arquivos.
Embora os escrivães não recebessem nenhuma quantia para realizar os registros nas atas de nascidos e mortos, sendo este um serviço gratuito, receberiam seus salários da emissão das certidões. Essas certidões se tornariam, com o decreto 798, obrigatórias para a realização do batismo das crianças e do sepultamento dos mortos nos cemitérios públicos, como mandavam os artigos 23 a 25:
Art. 23. Não se dará à sepultura cadáver algum sem que os Administradores dos cemitérios tenham presentes as certidões dos óbitos. Art. 24. Os párocos para a administração do baptismo exigirão certidão do registro do nascimento, salvo somente o caso de evidente perigo de vida do recém-nascido[3].
Um desentendimento de que a primeira certidão (de vida ou de morte) deveria ser emitida sem custos fez com que, no início de janeiro de 1852, no auge dos levantes nas províncias, o Ministro dos Negócios do Império mandasse circular um aviso de que os “Escrivães de Paz não deveriam cobrar emolumentos pelas certidões”[4], em resposta ao caso de um Escrivão do primeiro distrito de São José que exigia que a Santa Casa pagasse as certidões dos mortos que o hospital tratava e sepultava gratuitamente. Esse aviso buscava homogeneizar os procedimentos de registro que permaneciam até então à mercê das interpretações dos Escrivães nos distritos, sugerindo que, em diversos locais, a compra e venda de certidões foi uma prática adotada.
Apesar de não ser mencionado como algo relacionado aos levantes de 1852, os decretos 797 e 798 que organizavam o registro civil e a realização do primeiro censo foram antecedidos pelo decreto 796 de junho de 1851[5], que regulava os serviços de sepultamento, o preço dos caixões e todos os objetos relativos aos funerais. Segundo o decreto, os corpos passariam a ser sepultados em cemitérios públicos, uma decisão que vinha sendo pressionada por Portugal desde 1835[6], quando se proibiu o enterro nas igrejas, apesar da continuidade ilegal da prática nas províncias (Reis, 1991). Segundo Reis, o sepultamento dos corpos nas igrejas católicas locais, seja no interior da Igreja ou nos cemitérios paroquiais, tornava a morte uma presença constante e próxima; uma lembrança da vida no além para aqueles que ainda viviam a vida terrena. A proximidade dos corpos sepultados na igreja com os vivos era um facilitador às diversas mediações que o morto precisaria para sua travessia pós-morte, sendo o clero o único mediador capaz de livrar o morto de uma passagem pelo purgatório por meio da realização das missas fúnebres. Assim, o local de sepultamento, a presença clerical no momento da passagem, a quantidade de pessoas que velavam o morto e intercediam por ele faziam parte das práticas de gestão do bem morrer.
Se os poderes eclesiásticos locais reivindicavam a autoridade para operar a gestão da vida e da morte nas províncias, gerando diversos desentendimentos com o governo imperial a respeito da autoridade e idoneidade dos escrivães para tal, as novas práticas de registro pretendiam gerir a vida e a morte a partir de outros instrumentos. Com os decretos 796 e 797, os procedimentos necessários para uma boa vida e uma boa morte passariam a depender da inscrição nas atas de registro civil. Essas inscrições liberavam as certidões necessárias para que os corpos pudessem ser encaminhados para o sepultamento, assim como inscreviam os vivos em um novo mundo de papéis que atestavam a sua existência, tornando possíveis os batismos. A nova temporalidade dos papéis[7] se somava à geografia das instituições burocráticas, para a qual os locais de registro civil se organizavam a partir da divisão dos Distritos de Paz, uma gestão burocrática do espaço que tornava muitas vezes os escrivães inacessíveis para algumas pessoas e localidades (Oliveira, 2011).
Enquanto nas práticas religiosas a vida e a morte eram geridas a partir de muitas noções de proximidade - dentro do ambiente doméstico ou nos terrenos das igrejas -, o registro civil parecia funcionar a partir de muitas operações de distanciamento. Apesar disso, as práticas de registro populacional não eram estranhas às pessoas nas províncias. Pelo contrário, foram os registros paroquiais que tornaram possíveis as primeiras reuniões de dados sobre a população. Como nos mostra Santos (1971), as estruturas burocráticas estatais dependeram das instituições eclesiásticas e, por vezes, delegaram ao clero diversas funções civis, criando uma espécie de “liberalismo eclesiástico” que ocupava diversas posições dentro das primeiras organizações do funcionalismo público. Isso é ainda mais forte no decorrer do século XIX, quando a estrutura administrativa eclesiástica se torna mais organizada e ampla com a fundação de diversas capelas. Desde a instituição do regime de Padroado no século XV, que concedeu à Coroa portuguesa o poder de organizar e financiar as atividades religiosas nos territórios colonizados, as relações entre a vida civil e a vida religiosa na América portuguesa se encontravam profundamente implicadas.
Por outro lado, enquanto o registro civil demandava que as pessoas saíssem das suas casas e se encaminhassem até o local de trabalho do Escrivão para a emissão de uma certidão, criando uma espacialidade e temporalidade próprias da burocracia, o projeto censitário iria até a casa das pessoas e exigiria delas o preenchimento obrigatório de uma lista de família[8]. Essa nova dinâmica de chegada do recenseador nas casas reorganizava as fronteiras entre público e privado, figurando a família - codificada sob a categoria censitária de “fogo” - como um objeto de interesse para o Estado.
Art. 15. No dia 1º de julho de 1852 os comissários, seguindo, quanto for possível, a ordem da numeração das casas, começarão a entrega das listas a cada cabeça de família, ou pessoa que o represente, e lhes advertirão que elas devem ser cheias precisamente no dia 15 de julho de 1852.
Art. 16. Do dia 16 de julho de 1852 até o fim do dito mês os cabeças de família irão, ou mandarão entregar as listas, depois de cheias, aos comissários, os quais, no ato de as receber, examinarão se estão regulares, e perfeitas; e procurarão corrigir os erros e defeitos que encontrarem, por meio de declarações, que exigirão do mesmo cabeça da família, ou de outras pessoas da casa, ou da vizinhança, que para isso forem idôneas. [...]
Art. 19. Se no 1º de agosto não tiverem sido entregues todas as listas do seu distrito, o comissário procurará suprir essa falta, indo pessoalmente às casas dos omissos, e fazendo as diligências do Artigo antecedente, de maneira que até o fim do dito mês estejam todas as listas em seu poder[9].
Já em 1852, a obrigatoriedade do preenchimento das fichas do censo é mencionada nos artigos finais do decreto 797, com a punição dos chefes de família que se recusassem a prestar informações como crime de desobediência e, em casos de informações falsas, como crime de falsidade. O dispositivo punitivo associado ao projeto censitário é um aspecto relevante para pensar a recusa dos chefes de família em preencher as listas como uma possibilidade antevista pelo decreto. O receio de que o registro civil e o recenseamento pudessem lançar a público as ilegalidades ligadas ao tráfico (Chalhoub, 2012) e à propriedade de terras sugere que esses novos modelos de inscrição colocavam em risco os segredos de uma elite senhorial. Sabe-se, por exemplo, que mesmo após aprovada a Lei Feijó de 1831, que impunha penas aos importadores de africanos escravizados, e a Lei Eusébio de Queiros de 1850, uma medida de repressão ao tráfico através do monitoramento da costa e dos registros de legalidade, milhares de africanos escravizados entraram ilegalmente no Brasil. Só depois de 1850, Araújo (2018) estima cerca de 38 mil africanos ilegais destituídos de registro. É evidente que esses segredos não eram desconhecidos pelas elites imperiais, mas constituíam redes de relações tramadas em torno da omissão e da indiferença. Ao ser objetado como um interesse de Estado, seja por meio do deslocamento dos mortos e dos vivos via papéis, certidões, cemitérios públicos, seja por meio de visitas indesejadas e registros incessantes, o tensionamento do espaço privado - da casa e da família - representava também a capilarização e performance de um poder centralizado, que se expandia e reafirmava justamente por meio de instituições de coleta de informações como o registro civil e o censo.
“O papel da escravidão”
É em dezembro de 1851 que aparecem os primeiros registros de movimentações na Zona da Mata pernambucana[10]. Vitor de Oliveira, então presidente da província de Pernambuco, endereça uma série de cartas a Eusébio de Queiroz, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Justiça do Império, relatando as ocorrências em Pau D’Alho, Limoeiro e Nazareth. São nessas cidades onde se amotinam os primeiros “fanáticos” e “desmedidos” homens contra o decreto 797, que dariam o pontapé inicial nas mobilizações. Apesar da aparente incompreensão do governo imperial, as justificativas dos levantes nas correspondências trocadas parecem claras: o decreto estava sendo visto pelas pessoas como uma oportunidade para escravizar aqueles que já gozavam de liberdade, tendo sido nomeado de “Lei do Cativeiro”. Assim, “escravizar os recém-nascidos”[11], “lançar no Livro do Vigário como escravo” e mesmo chamar de “papel da escravidão”[12] o decreto, eram termos recorrentes nas cartas enviadas para a capital em busca de aconselhamento e apoio. O apoio viria sob a forma de pacificação militar e eclesiástica, que aparece já nas trocas de correspondência de janeiro de 1852[13], quando a Guarda Nacional é acionada[14] e a violência ascende. Com a chegada dos batalhões nas províncias, grupos de pessoas armadas passam a invadir propriedades e assassinar pessoas[15], o “fanatismo é levado ao delírio”, diz Vitor de Oliveira.
Diversos trabalhos historiográficos procuraram dar sentido à noção de cativeiro atribuída aos decretos, argumentando que as distinções entre liberdade e escravidão deveriam aparecer em primeiro plano nas análises sobre os levantes (Oliveira, 2011; Palacios, 2006). Se para Oliveira essas diferenças entre liberdade e escravidão mal podiam ser vistas ou sentidas pela população pobre, para Palacios era justamente a manutenção dessas distinções que importava, já que elas marcavam importantes lugares sociais. Para ele, com as leis abolicionistas, agricultores livres teriam sido igualados aos ex-escravos em sua condição de pobreza e dependência, o que teria desencadeado uma revolta a favor da manutenção de seus antigos privilégios e contra a abolição. Na tentativa de criar a nova figura do trabalhador da qual o Brasil precisava para substituir as mãos escravizadas nas grandes propriedades, agricultores pobres e negros livres e libertos se tornavam concorrentes no novo mercado, o que explicaria as tensões de 1852.
É possível também olhar para outras dimensões dos levantes de 1852 que não estejam necessariamente ligadas a uma investigação das suas causas, mas daquilo que eles mobilizaram politicamente. Por um lado, ao levar a sério o uso do termo “papel da escravidão”, bem como as compreensões de que “sem o papel não é possível fazer uma criança cristã”, sugiro pensar em uma elaboração da agência dos registros e documentos imperiais posta em circulação pelas próprias camadas populares, o que marca um momento de formação da burocracia no Brasil. A noção de que o papel é capaz de produzir agenciamentos para além da mera inscrição referencia um importante marco da administração imperial: a ascensão e o império dos registros no século XIX, vistos, por exemplo, no registro de propriedades sob a Lei de Terras de 1850, no registro de escravizados na Matrícula de 1872, assim como nas tentativas de recenseamento populacional e registro civil. Assim, trata-se menos de teorizar o que a burocracia é a partir das dinâmicas políticas de elites imperiais, como parecem ser os casos dos trabalhos de Fernando Uricoechea (1978) e José Murilo de Carvalho (1980), mas pensar o que a burocracia faz e como isso é percebido e analisado pelas próprias pessoas.
Pensar o medo do retorno da escravidão nessa chave é lidar com uma experiência coletiva de presentificação e reafirmação da memória em torno do cativeiro, que encontrava novas formas de se revitalizar naquele momento. Apesar de marcadas por intensos debates e movimentos abolicionistas, as décadas de 1850 a 1870 foram um momento de grandes ambiguidades na aplicação das leis, como sugere Ariza (2018) ao olhar para os falsos contratos de trabalho e vínculos de tutela que mantinham famílias inteiras cativas e, sobretudo, bebês e crianças, assim como para as ilegalidades ligadas ao tráfico e à manutenção de escravizados sem registros nas propriedades. Em seu trabalho sobre o retorno do cativeiro como um medo frequente entre camponeses, Otávio Velho (1995) argumenta que é preciso prescindir de leituras que traduzam os sentidos de cativeiro para categorias consideradas mais plausíveis para nós. Esses seriam os casos de tentar entender o cativeiro como a proletarização do trabalho livre-assalariado que se organizava naquele momento ou como uma analogia para pensar a racionalidade do Estado em lugares de primazia da tradição.
Ao investigar a escravidão como uma presença atualizada por meio da produção e circulação de papéis de coleta e registro de informações, é possível pensar na performatividade dos documentos e na sua capacidade de persuasão para além dos conteúdos que eles indexam (Riles, 2006), já que se trata de uma população majoritariamente iletrada e para a qual os signos dizem menos do que aquilo que os papéis são capazes de fazer. Essa elaboração do papel como um potencial dispositivo de cativeiro evidencia a inautenticidade como peça central da produção de registros oficiais (Holston, 2009; Gupta, 2012), uma vez que a declaração do chefe de família ao escrivão ou recenseador seria suficiente para que alguém fosse ou não inscrito como escravizado em uma certidão ou ficha censitária, colocando em risco todo o sistema de alforrias e liberdades condicionais. Esses são aspectos que colocam em primeiro plano a feitura e circulação de documentos imperiais como arranjos de poder e artefatos que produzem ou não sujeitos de direito (Vianna, 2014), tensionando sua imparcialidade.
Mais do que sustentar binômios de racionalidade do Estado x tradição para pensar as maneiras com que as pessoas negociam com e resistem aos registros burocráticos, é possível olhar também para os modos próprios de circulação de conhecimento postos em execução para barrar os decretos 797 e 798. Ao disputar espaço entre as camadas populares com as notícias, avisos e decretos inscritos, o boato articulava um meio próprio de participação e negociação política (Saavedra, 2011). Como sugere Veena Das (2007) ao navegar pelos rumores como uma região da linguagem, as conspirações e disseminações de ideias produzem os eventos no próprio ato de contar. Assim como os documentos, os rumores são também formas capazes de produzir relações, coordenando perspectivas e traçando conexões próprias entre os acontecimentos. Em um momento em que a elite imperial negociava os termos da abolição externamente e forçava a disseminação de uma noção de liberdade, recolocar as muitas vidas do cativeiro era também tensionar a ideia de um tempo superado.
A força política do rumor, no caso dos levantes de 1852, pode ser vista nos seus efeitos mais imediatos. Em janeiro de 1852, os decretos que organizavam o registro civil e o censo foram suspensos pelo decreto 907[16], uma resposta rápida aos levantes nas províncias. O censo e o registro civil de 1851 organizaram burocraticamente uma proposta que esperou semeada o momento para ser posta em execução: o primeiro censo do Império, apenas 20 anos mais tarde, em 1872, e o início registro civil em 1874. É possível dizer que os levantes foram efetivos na sua iniciativa de barrar a execução dos primeiros projetos de registro civil e censo populacional no Brasil, mas também precisos na sua leitura daquilo que se tornaria, em fins do século XIX, um complexo aparelho administrativo e burocrático do Estado, movido, sobretudo, pela circulação e pela guarda de registros.
Decreto N.º 905 de 22 de Janeiro de 1852
Suspende a execução dos Regulamentos para a organização do Censo geral do Império, e para o registro dos nascimentos e óbitos.
Hei por bem que, em quanto não se determinar o contrário, se sobsestaja na execução dos Regulamentos para a organização do Censo geral do Império, e para o registro dos nascimentos e óbitos, approvados pelos Decretos n.º 797, ambos de 18 de Junho de 1851.
O Visconde de Monte Alegre, Conselheiro d’Estado, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d’Estado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar.
Palácio do Rio de Janeiro em vinte e dois de Janeiro de mil oitocentos e cincoenta e dous, trigesimo primeiro da Independencia do Império.
Visconde de Monte Alegre
Reg.º n.º 170 do Livro 1.º dos Actos Legislativos
Referências bibliográficas:
ARAÚJO, Carlos Eduardo Moreira. Fim do tráfico. In.: SCHWARCZ, Lilia Moritz e GOMES, Flávio (Orgs.). Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
ARIZA, Marília B. A. Crianças/ventre livre. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz e GOMES, Flávio (Orgs.). Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial. Civilização Brasileira: Rio de Janeiro, 2008.
CHALHOUB, Sidney. A força da escravidão: ilegalidade e costume no Brasil Oitocentista. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
DAS, Veena. In the region of rumor. In: Life and words: violence and the descent into the ordinary. University of California Press, 2007.
GUPTA, Akhil. The State and the politics of poverty. In: Red Tape: bureaucracy, structural violence, and poverty in India. Duke University Press Books: Durham and London, 2012.
HOLSTON, James. The misrule of law: land and usurpation in Brazil. Comparative Studies in Society and History, vol. 33, n. 4, p. 695-725, 1991.
HULL, Matthew. Documents and Bureaucracy. Annual Review of Anthropology, vol. 41, p. 251-267, 2012.
MBEMBE, Achille. The power of the archive and its limits. In: Hamilton, C.; Harris, V. et al. (Orgs.). Refiguring the Archive. Kluwer Academic Publishers, 2002.
MELO, Mário. Guerra dos Maribondos. Revista do Instituto Archeologico, Histórico e Geográfico Pernambucano (RIHAP), n. 22, p.38-47, 1920.
MORAES, Barbara. Estatísticas parciais: a produção de dados censitários no Brasil Imperial. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2023.
OLIVEIRA, Maria Luiza. Resistência popular contra o Decreto 798 ou a lei do cativeiro, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Ceará, 1851-1852. In: Dantas, Mônica (Org). Revoltas, motins, revoluções: homens livres pobres e libertos no Brasil do século XIX. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2011.
PALACIOS, Guillermo. Revoltas camponesas no Brasil escravista: a “Guerra dos Marimbondos” (Pernambuco, 1851-1852). Almanack braziliense, n. 3, mai. 2006.
REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revoltas populares no Brasil do século XIX. Companhia das Letras: São Paulo, 1991.
RILES, Annelise. Documents: artifacts of modern knowledge. University of Michigan Press, 2006.
SAAVEDRA, Renata. População, recenseamento e conflito no Brasil Imperial: o caso da Guerra dos Marimbondos. Dissertação (Mestrado em História) - Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2011.
URICOECHEA, Fernando. O minotauro imperial. Rio de Janeiro, São Paulo: Difel, 1978.
VELHO, Otávio. O cativeiro da Besta-Fera. In: Besta-fera: recriação do mundo. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995.
VIANNA, Adriana. Etnografando documentos: uma antropóloga em meio a processos judiciais. In: CASTILHO, Sergio; LIMA, Antonio Carlos Souza; TEIXEIRA, Carla Costa (Orgs.). Antropologia das Práticas de Poder: reflexões etnográficas sobre burocratas, elites e corporações. Rio de Janeiro: ContraCapa/LACED, p. 43-70, 2014.
Fontes de arquivos:
[1] Decreto 798 de 18 de junho de 1851. Arquivo Nacional. Fundo: Diversos – SDH – Códices. BR RJANRIO NP.COD.0.808, v.02/f.224-244.
[2] Decreto 797 de 18 de junho de 1851. Arquivo Nacional. Fundo: Decretos do executivo – período imperial. BR RJANRIO 22.0.0.8023.
[3] Decreto 798 de 18 de junho de 1851. Arquivo Nacional. Fundo: Diversos – SDH – Códices. BR RJANRIO NP.COD.0.808, v.02/f.224-244.
[4] https://bd.camara.leg.br/bd/items/6fb3cbf0-b3e4-405e-9f11-c5d3e3099801 (Collecção das Leis do Imperio do Brasil de 1852, parte 3, Decisões.)
[5] Arquivo Nacional. Fundo: Decretos do executivo – período imperial. BR RJANRIO 22.0.0.8154.
[6] Decreto de 21 de setembro de 1835, referendado por Rodrigo da Fonseca Magalhães, que cria cemitérios públicos em Portugal e proíbe o enterro nos templos. (https://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/16/84/p337)
[7] Arquivo Nacional. Fundo: Decretos do executivo – período imperial. BR RJANRIO 22.0.0.8025.
[8] Recenseamento Geral do Império. Lista de Família. https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/instrumentos_de_coleta/doc1101.pdf
[9] Decreto 797 de 18 de junho de 1851. Arquivo Nacional. Fundo: Decretos do executivo – período imperial. BR RJANRIO 22.0.0.8023. (grifo meu)
[10] Arquivo Nacional. Fundo: Série Interior - Negócios de províncias e estados. IJJ9 253. Correspondências do Presidente da Província de Pernambuco ao Ministério do Império, 1846 a 1852, vol. 18.
[11] Arquivo Nacional. Fundo: Série Interior - Negócios de províncias e estados. IJJ9 253. Correspondências do Presidente da Província de Pernambuco ao Ministério do Império, 1846 a 1852, vol. 18.
[12] Arquivo Nacional. Fundo: Série Interior - Negócios de províncias e estados. IJJ9 253. Correspondências do Presidente da Província de Pernambuco ao Ministério do Império, 1846 a 1852, vol. 18.
[13] Arquivo Nacional. Fundo: Série Justiça - Gabinete do Ministro. IJ1 864.
[14] Arquivo Nacional. Fundo: Série Justiça - Gabinete do Ministro. IJ1 864.
[15] Arquivo Nacional. Fundo: Série Justiça - Gabinete do Ministro. IJ1 864.
[16] Arquivo Nacional. Fundo: Decretos do executivo – período imperial. BR RJANRIO 22.0.0.8026.
● Nota: O artigo e os demais documentos do Arquivo Nacional estão disponíveis no seguinte link:
● Se este conteúdo lhe foi útil ou o fez refletir, considere apoiar espontaneamente este espaço de História e Memória. Cada contribuição ajuda no desenvolvimento do blog. Chave PIX: oogrodahistoria@gmail.com
Muito obrigado, com apreço
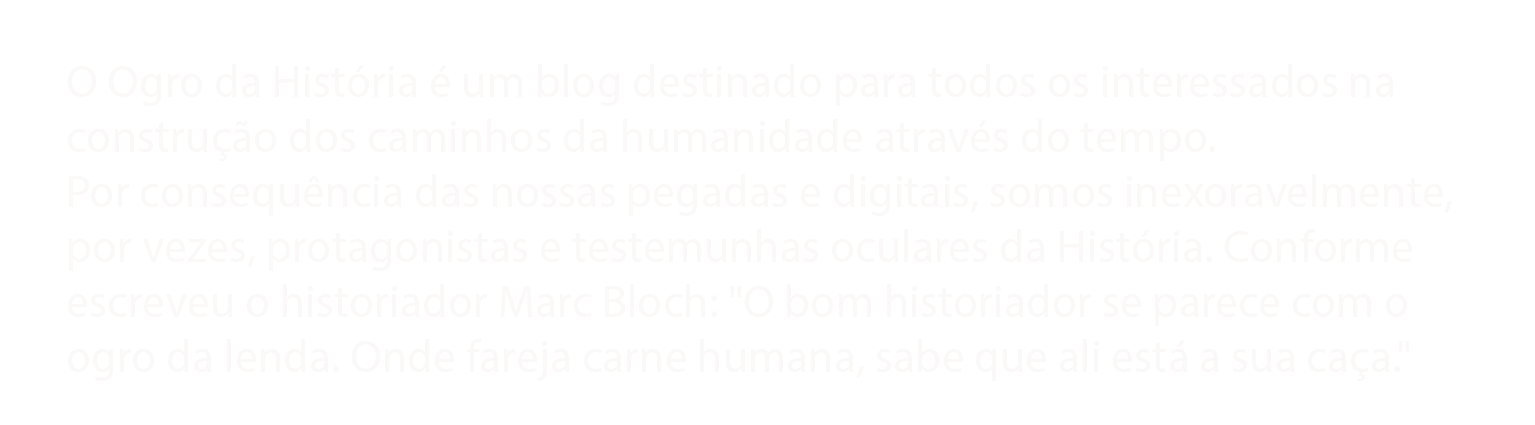




Comentários
Postar um comentário
Agradecemos o seu comentário. Isto nos ajuda no desenvolvimento deste blog.