Tokenismo: Entre a Ilusão da Inclusão e a Realidade da Exclusão
1. Introdução
A ideia de inclusão é, sem dúvida, um dos grandes valores simbólicos da contemporaneidade. Empresas, governos e instituições educacionais têm se esforçado em promover a imagem de ambientes mais diversos, plurais e receptivos às diferenças. No entanto, em muitos casos, essa aparente abertura não passa de uma encenação. É nesse contexto que emerge o conceito de tokenismo, entendido como uma forma simbólica e superficial de inclusão de minorias, utilizada principalmente para mitigar críticas de exclusão, preconceito ou desigualdade. O termo, como afirmou Martin Luther King em 1962, refere-se a uma estratégia ilusória: “A noção de que a integração por meio de tokens vai satisfazer as pessoas é uma ilusão. O negro de hoje tem uma noção nova de quem é”.
Neste artigo, propõe-se uma análise crítica acerca do tokenismo sob as lentes da história, da sociologia, da filosofia e da política, com o objetivo de compreender não apenas o que está por trás dessa prática, mas também seus impactos e contradições no mundo contemporâneo.
2. Origem Histórica do Tokenismo
O termo “token” significa “símbolo” em inglês, e o conceito de tokenismo começou a se consolidar durante a luta por direitos civis nos Estados Unidos nas décadas de 1950 e 1960. O movimento liderado por figuras como Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Malcolm X e muitos outros exigia não apenas o fim da segregação racial, mas o acesso efetivo e equitativo a oportunidades sociais, econômicas e políticas. No entanto, a resposta do establishment foi muitas vezes simbólica: concedia-se uma vaga a uma pessoa negra em um espaço predominantemente branco, ou nomeava-se uma mulher em um cargo diretivo majoritariamente masculino, como forma de demonstrar “progresso”.
Ao denunciar o tokenismo, King apontava a superficialidade dessas concessões. Não bastava inserir um negro em um espaço branco para que houvesse igualdade: era preciso transformar as estruturas sociais que mantinham os privilégios e os preconceitos.
Assim, historicamente, o tokenismo surgiu como uma estratégia reativa de instituições diante de demandas legítimas por justiça social. Era uma forma de controle simbólico: oferece-se um pouco para não se mexer no muito.
3. Análise Sociológica: Inclusão ou Estratégia de Exclusão Disfarçada?
Os psicólogos Michael Hogg e Graham Vaughan, no livro, "Social Psychology", classificam o tokenismo como uma forma indireta de discriminação. Trata-se de uma inclusão “calculada”, que busca apenas o efeito estético da diversidade sem que haja qualquer transformação nas estruturas de poder. É o que poderíamos chamar de diversidade performática.
Essa lógica é facilmente observada em grandes corporações que, diante de acusações de racismo, homofobia ou machismo, contratam uma ou duas pessoas pertencentes aos grupos minoritários e alardeiam essas presenças como prova de seu compromisso ético. No entanto, essas pessoas — os chamados tokens — são frequentemente excluídas das decisões estratégicas e relegadas ao papel de símbolos. Seu valor, assim, torna-se representacional e não funcional. Segundo Hoog e Vaughan:
"O tokenismo é um ato positivo relativamente pequeno ou trivial, um símbolo, em relação a membros de um grupo minoritário. A ação é então invocada para repudiar acusações de preconceito e como justificativa para a recusa em se envolver em atos positivos maiores e mais significativos ou para, posteriormente, se envolver em discriminação ("Não me incomode, já não fiz o suficiente?"). Por exemplo, estudos de Dutton e Lake (1973) e Rosenfield et al. (Rosenfield, Greenberg, Folger e Borys, 1982) descobriram que participantes brancos que realizaram um pequeno favor para um estranho negro mostraram-se posteriormente menos dispostos a se envolver em formas mais intensas de ajuda do que aqueles que não realizaram o pequeno favor. Esse efeito foi intensificado quando a ação simbólica (o pequeno favor) ativou estereótipos negativos sobre negros — por exemplo, quando o favor envolveu dar dinheiro a um morador de rua negro (veja a primeira pergunta introdutória). O tokenismo pode ser usado por organizações e pela sociedade como um todo. Nos Estados Unidos, algumas organizações criticaram o uso do tokenismo (como um "sinal de boa vontade") ao empregar minorias (por exemplo, afro-americanos, latinos) que, por sua vez, deixam de tomar medidas mais fundamentais e importantes em direção à igualdade de oportunidades. Essas organizações podem usar as minorias como um sinal para ajudar a desviar acusações de preconceito. O tokenismo nesse nível pode ter consequências prejudiciais para a autoestima dos membros da minoria empregados (Chacko, 1982; veja abaixo).
Discriminação Reversa ou Positiva
Uma forma mais extrema de tokenismo é a discriminação reversa ou positiva. Pessoas com atitudes preconceituosas residuais podem, às vezes, favorecer membros de um grupo contra o qual sentem preconceito em detrimento de membros de outros grupos. Por exemplo, Chidester (1986) fez com que alunos brancos se envolvessem em uma conversa amigável por meio de equipamento de áudio com outro aluno, que era claramente negro ou branco. Os alunos brancos avaliaram sistematicamente estranhos negros de forma mais favorável do que estranhos brancos. Descobertas semelhantes surgiram do estudo de Dutton e Lake (1973) citado anteriormente (veja a primeira pergunta introdutória).
Como a discriminação reversa favorece um membro de um grupo minoritário, ela pode ter efeitos benéficos a curto prazo. No entanto, a longo prazo, pode ter algumas consequências prejudiciais para seus destinatários (Fajardo, 1985; veja abaixo) e, até o momento, não há evidências de que a discriminação reversa resulte na abolição dos preconceitos arraigados do discriminador. A discriminação reversa é uma forma eficaz de ocultar o preconceito, mas também pode refletir ambivalência, um desejo de parecer igualitário ou sentimentos genuínos de admiração e respeito (Carver, Glass e Katz, 1977; Gaertner e Dovidio, 1986).
O desafio para o pesquisador é saber quando um comportamento diferente para favorecer uma minoria é discriminação reversa ou é, na verdade, uma tentativa genuína de retificar o preconceito. [...]"
A socióloga e professora da Harvard Business School, Rosabeth Moss Kanter, investigou o funcionamento das organizações e suas dinâmicas de poder. Em sua análise, identificou três efeitos principais do tokenismo:
Visibilidade distorcida: a pessoa-token se torna um ponto focal, como se representasse todo o seu grupo. Suas falas, erros e comportamentos são hipervigiados;
Polarização: a presença do token gera tensões entre o grupo dominante e o representado, fortalecendo barreiras invisíveis;
Assimilação estereotipada: espera-se que o token incorpore e reproduza estereótipos atribuídos ao seu grupo, sendo assim reduzido a uma identidade coletiva caricatural.
Dessa forma, o tokenismo, longe de promover inclusão, reforça a desigualdade ao institucionalizar a presença simbólica e não o pertencimento efetivo.
4. A Dimensão Filosófica do Tokenismo
Do ponto de vista filosófico, o tokenismo apresenta uma série de contradições. Ele se insere no coração de um dos grandes dilemas éticos modernos: a tensão entre o reconhecimento e o instrumentalismo.
O filósofo alemão Axel Honneth, por exemplo, trabalha a ideia de que as lutas sociais são, acima de tudo, lutas por reconhecimento. Os sujeitos não querem apenas existir, mas querem ser reconhecidos em sua dignidade, identidade e singularidade. O tokenismo, nesse sentido, constitui uma negação do reconhecimento autêntico. Ele oferece um reconhecimento condicional, superficial, que não considera o sujeito como um fim em si, mas como meio para limpar a imagem da instituição.
Já o filósofo francês Jean-Paul Sartre, ao tratar da má-fé (mauvaise foi), poderia contribuir com outra camada de análise: o tokenismo representa um tipo de má-fé institucional. A empresa ou organização age como se estivesse comprometida com a diversidade, mas na verdade utiliza esse discurso como mecanismo de autoengano e manipulação da opinião pública.
Além disso, há aqui uma dimensão hegeliana no jogo entre senhor e escravo: o grupo dominante (senhor) só reconhece o outro (escravo/token) quando isso não ameaça seu domínio. A presença do outro é tolerada, mas apenas na medida em que não questiona os alicerces da hierarquia existente.
Assim, o tokenismo é uma forma de “inclusão instrumental”, sem ética do reconhecimento. Ele não trata o sujeito como um agente, mas como uma função simbólica.
5. Tokenismo e Política: Diversidade ou Estratégia Eleitoral?
No campo político, o tokenismo é largamente utilizado como estratégia eleitoral. No Brasil, a Lei nº 9.504/1997, exige que partidos assegurem o mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas de cada sexo. Isto na maioria das vezes não é cumprido de forma croncreta. Partidos incluem candidaturas de minorias — mulheres, negros, LGBTQIA+ — com o objetivo de atrair votos de determinados grupos ou demonstrar alinhamento com pautas identitárias. No entanto, essas candidaturas muitas vezes são inviabilizadas dentro das próprias estruturas partidárias, ou não recebem apoio efetivo para concorrer com chances reais.
O exemplo brasileiro ilustra bem esse cenário. Após a implementação das cotas de gênero para candidaturas eleitorais, surgiram os chamados “candidatos laranjas”: mulheres inscritas como candidatas apenas para preencher a cota, sem recursos ou intenção real de campanha. Tal prática é uma expressão do tokenismo político: cumpre-se formalmente a exigência legal, sem comprometer-se com a mudança estrutural da política, que continua majoritariamente masculina e branca.
Esse tipo de manipulação simbólica da diversidade política contribui para desacreditar a democracia, pois reduz o debate a uma performance. Os tokens políticos tornam-se peças decorativas em campanhas que se dizem inclusivas, mas operam com exclusão real.
Além disso, como destacam críticos da esquerda identitária, o tokenismo também pode ser instrumentalizado para neutralizar críticas mais profundas ao sistema. A nomeação de uma mulher negra para um cargo de poder pode ser usada como cortina de fumaça para ocultar políticas neoliberais que prejudicam justamente os grupos que essa pessoa simboliza.
6. Tokenismo Corporativo e o Marketing da Falsa Inclusão
O tokenismo é especialmente visível no universo corporativo, onde a pressão por responsabilidade social, ESG e diversidade tem se tornado cada vez maior. Empresas utilizam estratégias de marketing inclusivo com frequência: campanhas publicitárias que exaltam a diversidade de gênero, raça e orientação sexual, vitrines que celebram o “orgulho LGBTQIA+”, e hashtags de apoio ao “Black Lives Matter”.
Contudo, internamente, essas mesmas empresas muitas vezes não possuem políticas de inclusão efetivas, nem promovem equidade salarial, nem combatem o racismo institucional. O token corporativo cumpre aqui um papel quase mitológico: serve para exorcizar o preconceito e criar a aura de progresso. É o caso da modelo negra em destaque na propaganda de uma grife que, na prática, é acusada de não contratar profissionais negros para cargos estratégicos.
Esse “marketing da falsa inclusão”, como apontado no texto-base, representa um risco à própria luta por igualdade, pois cria uma atmosfera de progresso que inibe a denúncia e adia mudanças reais. Mais grave: coloca sobre os ombros do token a responsabilidade de representar uma comunidade inteira, transformando-o em conselheiro não oficial da empresa para todas as questões “de diversidade”.
7. Os Efeitos Psicológicos do Tokenismo
Do ponto de vista individual, o tokenismo gera uma série de efeitos nocivos para os tokens, que se veem submetidos a múltiplas pressões:
Síndrome do impostor: muitos tokens sentem que estão ocupando aquele espaço não por mérito, mas por uma política de “cota simbólica”, o que afeta sua autoestima e produtividade;
Pressão da representatividade: o token é constantemente demandado a falar por seu grupo — “como mulher negra, o que você acha?”, “como gay, isso te incomoda?” —, o que o torna porta-voz involuntário de causas complexas;
Isolamento social: em ambientes hostis ou indiferentes, o token tende a se isolar, não por desejo, mas por falta de pertencimento real.
Além disso, há o fenômeno da “lealdade ambivalente”: o token se sente dividido entre agradar o grupo dominante, que o acolheu simbolicamente, e ser fiel à sua comunidade de origem, que o observa com desconfiança.
8. Representatividade Real x Tokenismo
É importante distinguir tokenismo de representatividade real. A presença de pessoas negras, mulheres, LGBTQIA+ e outros grupos em espaços de poder é necessária, mas deve ser acompanhada de condições de pertencimento, participação e decisão. Quando isso não ocorre, a inclusão é simbólica.
A representatividade real exige:
● Múltiplas presenças, não apenas uma;
● Espaço para diversidade dentro do grupo (nem toda mulher pensa igual, nem todo negro fala a mesma linguagem);
● Possibilidade de erro e conflito, sem que isso seja interpretado como falha do grupo;
● Transformação institucional para que o espaço se torne realmente plural.
● A presença isolada e decorativa, ao contrário, é tokenismo disfarçado de progresso.
9. Caminhos para Superar o Tokenismo
Superar o tokenismo exige mudanças estruturais e culturais. Algumas possíveis direções:
● Políticas de inclusão com metas reais, acompanhadas por indicadores de progresso;
● Educação antidiscriminatória em todos os níveis institucionais;
● Criação de ambientes acolhedores e horizontais, onde a diversidade seja um valor prático, e não apenas simbólico;
● Incentivo à pluralidade de vozes dentro dos grupos, rompendo com a ideia de que uma única pessoa possa representar toda a experiência de um coletivo;
● Autonomia política e profissional dos tokens, para que não sejam meras extensões das vontades institucionais.
● Como disse bell hooks, teórica feminista negra: “Não basta que sejamos incluídos nas estruturas existentes — é preciso transformá-las”.
10. Conclusão
O tokenismo é uma armadilha que transforma a luta por igualdade em espetáculo. Ele oferece uma ilusão de progresso enquanto perpetua as estruturas de exclusão. Ao incluir de forma simbólica, impede a inclusão real. Ao celebrar a diversidade aparente, bloqueia a mudança efetiva. Ao transformar indivíduos em símbolos, silencia suas vozes.
Combater o tokenismo é, portanto, lutar por inclusão com substância, por reconhecimento com dignidade, por presença com poder. É entender que diversidade não se mede por rostos diferentes numa foto institucional, mas por vozes distintas tomando decisões, influenciando rumos, disputando narrativas.
Como lembrou Martin Luther King, não basta que o negro entre na sala — é preciso que ele possa falar, decidir e transformar o espaço. O mesmo vale para todas as minorias. E é somente nesse horizonte de inclusão real que o ideal de igualdade poderá, enfim, deixar de ser símbolo para se tornar realidade.
Indicação de leitura:
● Social Psychology por Michael Hogg e Graham Vaughan
Veja mais em:
https://youtu.be/AX6xQvATZ6w?si=lnXP2DoekHUmuxK8
Assista o documentário "Eu não sou negro" (2016) do diretor Raoul Peck clicando no link:
https://youtu.be/LAfLH2cTEOQ?si=yODfmZQqqAq9s-2v
● Se este conteúdo lhe foi útil ou o fez refletir, considere apoiar espontaneamente este espaço de História e Memória. Cada contribuição ajuda no desenvolvimento do blog. Chave PIX: oogrodahistoria@gmail.com
Muito obrigado, com apreço.
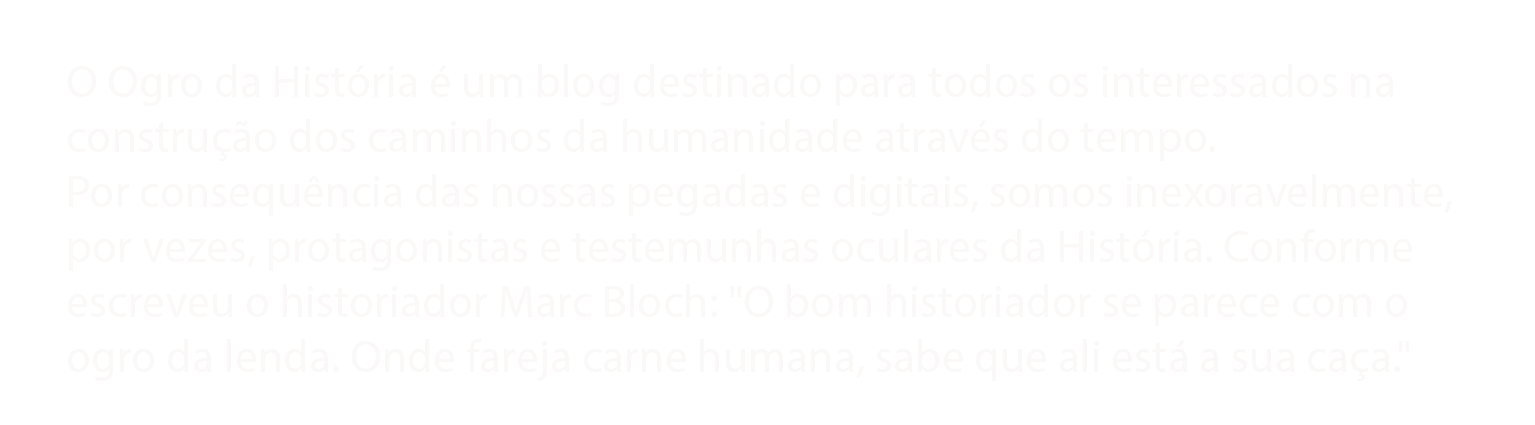





Comentários
Postar um comentário
Agradecemos o seu comentário. Isto nos ajuda no desenvolvimento deste blog.