A história do voto feminino no Brasil: uma longa luta
Em 1955, eleitora vota para presidente da República, no Rio de Janeiro. Arquivo Nacional
1. Introdução
A conquista do voto feminino no Brasil, formalizada em 24 de fevereiro de 1932 pelo Decreto nº 21.076 do governo provisório de Getúlio Vargas, foi fruto de uma longa luta liderada por mulheres que, desde o final do século XIX, vinham questionando o monopólio masculino sobre a vida política. Essa vitória não foi um presente concedido pelo governo, mas resultado de pressões, articulações e persistência de um movimento organizado que soube inserir suas reivindicações no momento de crise política e de reconfiguração do poder nacional.
Antes de 1932, o Brasil vivia sob um sistema eleitoral restritivo e profundamente excludente. O voto era proibido para analfabetos (que compunham a maioria da população), para mendigos, para membros de ordens religiosas e, naturalmente, para as mulheres. Embora outros países já tivessem dado passos importantes rumo à inclusão feminina nas urnas, aqui, as resistências eram grandes e fundamentadas em argumentos que misturavam preconceito de gênero, conservadorismo e interesses políticos.
A conquista do voto feminino representou não apenas a abertura de uma nova porta na cidadania, mas também um marco simbólico no reconhecimento da mulher como sujeito político. A Constituição de 1934 consolidou esse direito, e, desde então, a participação feminina nas eleições se tornou um indicador importante da evolução democrática do país.
2. O cenário político antes de 1932
Durante a chamada República Velha (1889–1930), o sistema político brasileiro era dominado por um pacto oligárquico conhecido como "política do café com leite", em que São Paulo e Minas Gerais se revezavam no poder. O voto era aberto (não secreto), o que facilitava práticas de coerção e fraude, e estava restrito aos homens alfabetizados, excluindo grande parte da população.
A ausência de direitos políticos para as mulheres refletia uma concepção de cidadania restrita aos homens que participavam da vida pública. O papel social feminino era quase inteiramente confinado ao ambiente doméstico, com a maternidade e a vida familiar colocadas como virtudes centrais. Embora houvesse mulheres instruídas e atuantes na vida cultural, seu espaço na política era visto com desconfiança.
No campo jurídico, a legislação brasileira não proibia explicitamente a participação feminina nas eleições — mas tampouco a reconhecia. Em 1891, por exemplo, a primeira Constituição republicana não mencionava as mulheres no rol de eleitores, e a interpretação predominante era de que o silêncio legal equivalia à exclusão.
Algumas tentativas pioneiras de registrar mulheres como eleitoras ocorreram ainda na década de 1920. Um caso célebre foi o da professora Celina Guimarães Viana, de Mossoró (RN), que, em 1927, conseguiu inscrever-se como eleitora com base em uma lei estadual do Rio Grande do Norte. Sua inscrição foi aceita, e ela se tornou a primeira mulher oficialmente registrada para votar no Brasil. Essa experiência, no entanto, permaneceu isolada e enfrentou resistência jurídica.
3. O movimento feminista brasileiro no início do século XX
O movimento feminista brasileiro começou a se organizar formalmente nas primeiras décadas do século XX. Suas líderes mais notáveis incluíam Maria Lacerda de Moura, uma educadora, escritora e ativista anarquista que defendia a emancipação feminina não apenas no voto, mas também na educação e no trabalho, e Bertha Lutz, bióloga e funcionária do Museu Nacional, que trouxe ao Brasil ideias do sufragismo europeu.
Bertha Lutz fundou, em 1922, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF), que se tornou a principal entidade sufragista do país. A FBPF tinha objetivos amplos: promover a educação feminina, proteger mães e crianças, garantir condições dignas de trabalho para as mulheres e assegurar direitos políticos. Essa amplitude de pautas permitiu que a organização atraísse tanto mulheres de elite quanto trabalhadoras.
A atuação da FBPF incluía campanhas públicas, palestras, debates e intensa comunicação com lideranças políticas. Bertha Lutz também representou o Brasil em eventos internacionais, como conferências pan-americanas, levando a questão do voto feminino a fóruns diplomáticos.
Embora nem todas as feministas brasileiras da época concordassem com o foco no voto — algumas defendiam mudanças sociais mais amplas antes da participação eleitoral —, o sufrágio se tornou o símbolo mais visível da luta pela igualdade de direitos.
4. O contexto internacional
No início do século XX, vários países começaram a reconhecer o direito de voto às mulheres. A Nova Zelândia foi pioneira em 1893, seguida pela Austrália em 1902. Nos Estados Unidos, o sufrágio feminino foi conquistado em 1920, após décadas de mobilização. Na Europa, países como Finlândia (1906), Noruega (1913) e Reino Unido (parcialmente em 1918, universalmente em 1928) também ampliaram a cidadania.
Essa onda internacional influenciou as feministas brasileiras, que viam no avanço de outras nações uma forma de pressionar o governo e a opinião pública. Além disso, a participação do Brasil na Liga das Nações e em conferências pan-americanas fez com que as discussões sobre igualdade política se tornassem mais frequentes nos círculos diplomáticos.
Bertha Lutz, em especial, manteve contato com lideranças feministas de outros países, trocando experiências e estratégias. Ela percebeu que o sufrágio feminino, embora dependesse da realidade política de cada país, se beneficiava de um movimento global que conferia legitimidade à causa.
5. A Revolução de 1930 e a abertura política
A Revolução de 1930 representou uma ruptura na ordem política da República Velha. Liderada por Getúlio Vargas, então governador do Rio Grande do Sul, e apoiada por militares e civis insatisfeitos, a revolta pôs fim ao domínio oligárquico e abriu espaço para mudanças institucionais profundas.
Entre as promessas que legitimaram o movimento estava a reforma eleitoral. O sistema vigente, com voto aberto e manipulado por coronéis, era visto como arcaico e incompatível com as demandas de modernização do país. A crise econômica de 1929, que afetou o café — base da economia —, e a instabilidade política contribuíram para o cenário de transição.
Para as feministas, a ascensão de Vargas representava uma oportunidade estratégica. Embora Vargas não fosse um entusiasta declarado do voto feminino, sua busca por apoio político em diversos setores fez com que estivesse mais aberto a negociar. Bertha Lutz e a FBPF intensificaram sua pressão, argumentando que incluir as mulheres no eleitorado aumentaria a legitimidade do novo regime e reforçaria sua imagem de modernizador.
6. O Decreto nº 21.076 de 1932 e suas implicações
Em 24 de fevereiro de 1932, o governo provisório publicou o Decreto nº 21.076, instituindo o novo Código Eleitoral. Entre suas principais inovações estavam:
1. Criação da Justiça Eleitoral para organizar e fiscalizar o processo.
2. Instituição do voto secreto.
3. Inclusão das mulheres como eleitoras.
O texto estabelecia que o alistamento eleitoral seria obrigatório para homens alfabetizados maiores de 21 anos e facultativo para as mulheres. Embora essa distinção mostrasse que a igualdade não era plena, foi um passo histórico.
O voto feminino ainda estava limitado por outros fatores: a exclusão de analfabetos (que atingia a maioria da população, incluindo mulheres pobres), a exigência de idade mínima e a dificuldade de deslocamento até as seções eleitorais em regiões rurais. Na prática, as primeiras eleitoras eram, em sua maioria, mulheres urbanas, de classe média ou alta, com acesso à educação formal.
Apesar dessas restrições, a conquista representava o rompimento de um tabu: a presença feminina nas urnas e no debate político deixava de ser um ato isolado ou contestado judicialmente e passava a ser reconhecida pela lei federal.
7. A Constituinte de 1933–1934
As eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, realizadas em 1933, foram o primeiro teste do novo sistema. Mulheres puderam votar e se candidatar. Entre as eleitas destacou-se Carlota Pereira de Queirós, médica paulista e primeira deputada federal do Brasil. Sua presença no parlamento foi simbólica: além de representar o avanço dos direitos políticos femininos, Carlota atuou em comissões e apresentou projetos, defendendo pautas ligadas à saúde e à educação.
A Constituinte resultou na promulgação da Constituição de 1934, que consolidou o voto feminino e manteve a Justiça Eleitoral e o voto secreto. O novo texto eliminou a distinção entre voto obrigatório para homens e facultativo para mulheres, tornando-o obrigatório para ambos — ainda que, na prática, a fiscalização fosse desigual.
O sufrágio universal, no entanto, ainda não era pleno: analfabetos continuavam excluídos, o que mantinha milhões de brasileiros e brasileiras fora do processo eleitoral.
8. Avanços e retrocessos durante o Estado Novo
O golpe de 1937, que instaurou o Estado Novo, interrompeu o funcionamento das instituições democráticas. Vargas fechou o Congresso, suspendeu eleições e concentrou poderes no Executivo. O voto feminino, assim como o masculino, ficou na prática suspenso.
Durante o Estado Novo, o discurso oficial exaltava o papel da mulher como mãe e guardiã do lar. A propaganda política reforçava a imagem da “mãe brasileira” como pilar moral da nação. Essa narrativa, embora reconhecesse simbolicamente a importância da mulher, afastava-a da arena política e reforçava estereótipos de gênero.
Ainda assim, algumas organizações femininas continuaram ativas, especialmente na área assistencial e educacional, mantendo vivas as redes de sociabilidade e mobilização que seriam retomadas no período democrático pós-1945.
9. O voto feminino no período democrático pós-1945
Com o fim do Estado Novo e a redemocratização em 1945, o Brasil realizou novas eleições gerais, e as mulheres voltaram às urnas. A Constituição de 1946 reafirmou o direito de voto para todos os cidadãos alfabetizados maiores de 18 anos, sem distinção de gênero.
A participação feminina, no entanto, ainda era modesta. Barreiras culturais, econômicas e sociais limitavam o número de candidatas e dificultavam que as mulheres alcançassem cargos eletivos. Até a década de 1960, a representação feminina no Congresso Nacional raramente ultrapassava duas ou três deputadas por legislatura.
Mesmo com baixa presença numérica, as parlamentares da época atuavam de forma articulada, defendendo pautas como licença-maternidade, proteção ao trabalho feminino e ampliação do acesso à educação.
10. O impacto social e cultural da inclusão das mulheres na política
O voto feminino não significou apenas a possibilidade de escolher representantes; ele abriu espaço para que mulheres influenciassem agendas políticas e se vissem como cidadãs plenas. A partir da década de 1950, o engajamento político feminino cresceu, impulsionado por movimentos de bairro, associações de mães e sindicatos.
A presença das mulheres também modificou a cultura política. Embora os partidos ainda fossem majoritariamente controlados por homens, a pressão por candidaturas femininas aumentou. Em campanhas eleitorais, temas como saúde, educação e assistência social começaram a ganhar mais destaque, refletindo demandas trazidas por eleitoras e candidatas.
11. A presença feminina no Parlamento e na política ao longo das décadas
O avanço da presença feminina na política foi lento, mas contínuo. Na década de 1970, em meio à ditadura militar, algumas mulheres ocuparam cadeiras no Congresso, geralmente ligadas a partidos de oposição. Nos anos 1980, com a redemocratização, o movimento de mulheres ganhou força e participou ativamente da campanha pelas Diretas Já e da elaboração da Constituição de 1988.
A nova Carta Magna reforçou a igualdade de direitos entre homens e mulheres e estabeleceu mecanismos para combater a discriminação. Nos anos seguintes, leis de cotas obrigaram os partidos a reservar um percentual mínimo de candidaturas para mulheres, medida que buscou corrigir desigualdades históricas, embora sua eficácia tenha sido inicialmente limitada.
12. Reflexões contemporâneas e legado histórico
O caminho iniciado em 1932 continua em construção. Hoje, as mulheres representam a maioria do eleitorado brasileiro, mas ainda são minoria nos cargos eletivos. Essa disparidade revela que o direito ao voto, embora fundamental, não é suficiente para garantir igualdade na representação política.
O legado do voto feminino vai além das estatísticas: ele simboliza a luta por cidadania plena e pela quebra de barreiras sociais e culturais. A trajetória das sufragistas brasileiras demonstra que avanços democráticos dependem de organização, persistência e capacidade de aproveitar janelas de oportunidade política.
13. Conclusão
A história do voto feminino no Brasil é, ao mesmo tempo, um retrato da exclusão e um exemplo de superação. Da resistência das sufragistas à conquista do direito em 1932, da participação pioneira de Carlota Pereira de Queirós à atuação das parlamentares contemporâneas, trata-se de uma narrativa marcada por avanços graduais e desafios persistentes.
Se hoje o ato de votar parece natural, é preciso lembrar que ele foi fruto de uma luta árdua contra preconceitos arraigados e estruturas de poder que resistiam à mudança. A democracia brasileira deve parte de sua maturidade às mulheres que, em um tempo de vozes caladas, ousaram falar — e, finalmente, votar.
14. Linha do tempo do voto feminino no Brasil e no mundo
A conquista do voto feminino não ocorreu de forma simultânea entre os países, nem mesmo de maneira linear dentro de cada sociedade. O percurso foi desigual, com vitórias parciais, retrocessos e, por vezes, avanços rápidos em períodos de transformação política. A seguir, uma linha do tempo com os principais marcos:
Século XIX – Pioneirismo internacional
* 1791 – França: A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, de Olympe de Gouges, não garantiu o voto, mas lançou as bases filosóficas do sufrágio feminino. Olympe foi guilhotinada, evidenciando a resistência à igualdade política.
* 1869 – Wyoming (EUA): Território pioneiro a conceder voto às mulheres, antes mesmo de tornar-se estado.
* 1893 – Nova Zelândia: Primeira nação a reconhecer o voto feminino em âmbito nacional.
* 1902 – Austrália: Concede o voto às mulheres brancas (excluindo, na época, as indígenas).
* 1906 – Finlândia: Primeira nação europeia a conceder voto pleno às mulheres e permitir que se candidatem ao parlamento.
Primeiras décadas do século XX – Expansão e influência
* 1913 – Noruega: Amplia o voto feminino a todas as mulheres adultas.
* 1918 – Reino Unido: Mulheres com mais de 30 anos obtêm direito parcial; em 1928, equipara-se a idade ao sufrágio masculino.
* 1920 – Estados Unidos: A 19ª Emenda garante voto às mulheres em todo o país.
* 1924 – Mongólia e Cazaquistão: Avanços ligados a reformas socialistas.
* 1927 – Brasil (Rio Grande do Norte): O estado aprova lei que permite o voto feminino; Celina Guimarães Viana torna-se a primeira eleitora registrada no país.
1930–1934 – Vitória no Brasil
* 1930 – Revolução de 30: Cria ambiente de reformas políticas.
* 1932 – Decreto nº 21.076: Institui o Código Eleitoral, o voto secreto e a inclusão das mulheres no eleitorado.
* 1933 – Primeira eleição com participação feminina: Mulheres votam e podem se candidatar; Carlota Pereira de Queirós torna-se a primeira deputada federal.
* 1934 – Constituição: Consolida o direito de voto sem distinção de gênero.
1937–1945 – Retrocesso com o Estado Novo
* 1937: Suspensão das eleições no Brasil; direitos políticos ficam inativos para todos os cidadãos.
* 1945: Redemocratização e retomada do voto feminino.
Pós-guerra e avanços globais
* 1946 – Brasil: Nova Constituição reafirma o voto feminino.
* 1948 – ONU: A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece a igualdade de direitos políticos.
* 1950 – Índia: Mulheres ganham direito de votar na recém-independente república.
* 1956 – Egito: Direito ao voto feminino em contexto de reformas pós-coloniais.
* 1963 – Irã: Direito garantido, mas revogado após a Revolução de 1979.
* 1971 – Suíça: Última nação europeia ocidental a conceder voto federal às mulheres.
* 2015 – Arábia Saudita: Último país a permitir voto feminino, ainda com restrições.
15. Considerações finais sobre o impacto dessa cronologia
Ao olhar para essa linha do tempo, percebe-se que o Brasil não foi pioneiro globalmente, mas também não esteve entre os últimos. O sufrágio feminino brasileiro foi resultado de pressões internas articuladas com o movimento internacional e aproveitou um momento de reestruturação política para se concretizar.
O fato de Celina Guimarães Viana ter conseguido registrar-se como eleitora em 1927, antes da legislação federal, é um marco que demonstra como avanços locais podem inspirar transformações nacionais. Já a atuação de Bertha Lutz mostra que a diplomacia feminista, conectada com redes internacionais, foi fundamental para inserir a pauta na agenda de um governo que buscava legitimidade.
No contexto global, a luta pelo voto feminino também revela que conquistas políticas não são irreversíveis: países como o Irã mostram que direitos podem ser revogados sob regimes autoritários ou teocráticos. No Brasil, embora o direito ao voto tenha se mantido desde 1932, a desigualdade de representação persiste, evidenciando que a cidadania política formal nem sempre se traduz em poder real.
Fechamento
O direito ao voto feminino no Brasil é um marco civilizatório que conecta a história nacional a um movimento mundial de emancipação. A linha do tempo deixa claro que cada conquista foi fruto de mobilização, persistência e, muitas vezes, de um contexto histórico favorável.
Hoje, ao olhar para trás, percebemos que 1932 não foi um ponto de chegada, mas um ponto de partida — e que a luta por igualdade política ainda é, em essência, uma obra em andamento.
Indicação de leituras:
● O voto feminino no Brasil por Teresa Cristina de Novaes Marques
● O voto de saias na Primeira República por Ivan Gomes Ferreira
● Bertha Lutz: dos anos de formação à conquista do voto por Karen Sacconi
Veja mais em:
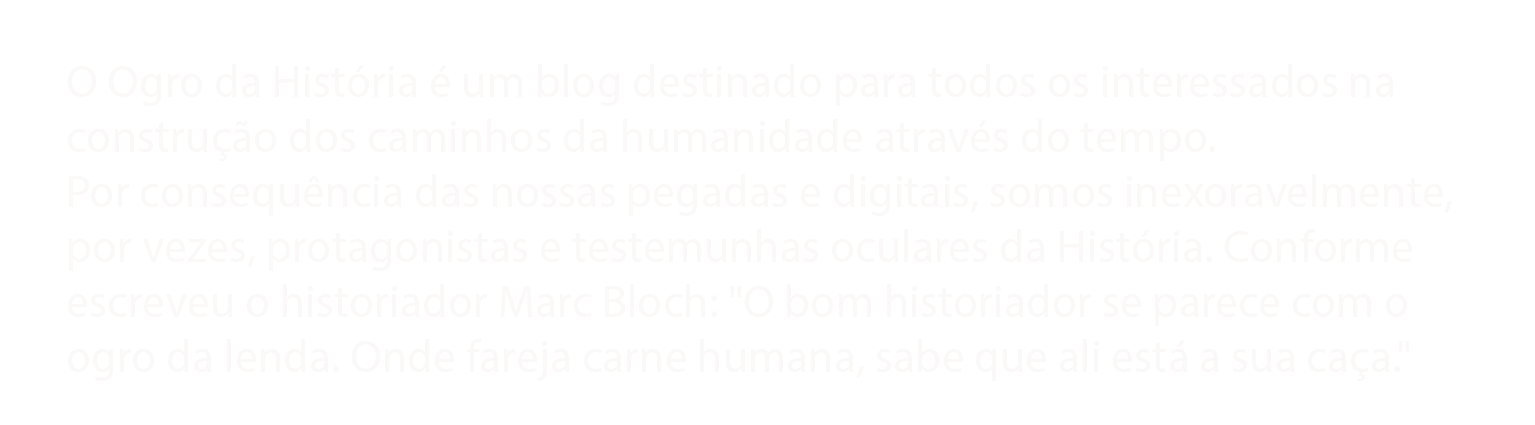





Comentários
Postar um comentário
Agradecemos o seu comentário. Isto nos ajuda no desenvolvimento deste blog.