Série crônicas: Cenas cariocas, o Rio como elecera: A lápide da Lapa
Este blog — que não pretende ser tratado acadêmico nem almanaque de curiosidades — oferece-lhe, com modéstia e alguma audácia, uma coleção de crônicas breves, todas inspiradas em retratos do outrora. São imagens, mas bem poderiam ser fantasmas. Há nelas uma ironia muda, um suspiro escondido, uma rua que já não é rua, mas memória.
Cada texto é um copo d’água do tempo, servido com duas pedras de sarcasmo e uma rodela de saudade. Há figuras conhecidas e outras anônimas, todas fixadas na eternidade de um instante que já passou. O que ofereço é apenas um olhar torto, talvez melancólico, talvez maroto, sobre aquilo que chamamos de “Rio Antigo” — e que, se olharmos bem, ainda nos espia pelas frestas da modernidade.
Leitor curioso, que tenhas olhos não apenas para o que foi, mas para o que permanece sob o disfarce do presente. Boa leitura!
A lápide da Lapa
Talvez pareça ao leitor mais atento a insólita franqueza com que lhe confesso a mim mesmo a minha mísera mediocridade — ou seria imperícia? De qualquer modo, parece-me irrelevante. Meu leitor, não se assuste: falo como quem veio do além, sob os Arcos da Lapa, este aqueduto colonial que outrora distribuía águas mansas às casas da cidade, e hoje — claro — alimenta apenas a imaginação dos saudosistas e a vaidade dos administradores públicos.
Aqui, onde o Convento de Santa Teresa observa lá do alto as sombras do Rio do meu tempo, deparo com um rio de velhos hábitos: carruagens emperradas sob o sol do meio-dia, escravos soturnos carregando cântaros, políticos pomposos debatendo sobretudos em praças poeirentas. Vejo o Imperador Pedro II deslizando discreto em ombrões de veludo e pompa, enquanto o cheiro de novo progresso convive com o hálito mudo da escravidão. Até as pedras do calçamento murmuram, como velhas vozes, questionando por que insistimos nessas repetições infindas da História.
Não me enganam as fachadas de novo mármore; tudo ali transpira a mesma hipocrisia ancestral. Mesmo a carismática Lapa, tão celebrada pelos espíritos frívolos, me parece um comediante ensaiado, repetindo piadas antigas de mendicidade e esplendor. Há violões, risos escassos, promessas políticas e um cheiro constante de aguardente moral. A cidade bebe, cambaleia, jura reformar-se e cai novamente no mesmo degrau, sempre convencida de sua superioridade civilizatória.
Não me oculta, leitor, quão sórdidos são os pecados do Império sob esta pedra e pó: especulações lusitanas sobre leis de abolir, juras inflamadas de progresso puxadas por bois magros. A Guerra do Paraguai soa distante por aqui, apenas rumor leve que mal provoca um bocejo contido nessa plateia sonolenta. Enquanto isso, nas vielas e morros, a plebe contempla, quase indiferente, o espetáculo desse teatro mundano encenado pelas elites. Dizer-lhes que nada adiantaria? Melhor rir às escondidas.
Não há nada tão incomensurável como o desdém dos que já partiram — e, cá entre nós, sinto todo um festival de desprezo jazido sob estes arcos antigos. Aqui enterram-se ambições, projetos e reputações com a mesma facilidade com que se enterram corpos. A morte, meu caro leitor, é a única repartição pública eficiente do Império: recebe todos, não exige favores e entrega silêncio absoluto como recibo final.
Permita-me uma digressão, porque o defunto tem esse direito extravagante. Confesso-lhe que, em vida, também usei a capa, as lantejoulas e os discursos ocos. Fui medíocre por prudência, discreto por interesse e moralista por conveniência. A consciência, essa senhora inconveniente, sempre esteve trancada no último quarto da casa. Hoje, liberta pela morte, faço dela companhia constante e conversadeira, ainda que um pouco tardia.
Repare, leitor, como o Aqueduto se impõe sobre as casas humildes, projetando sua sombra severa. Assim também o poder paira sobre os homens: fornece água, exige reverência e não responde perguntas. Os que passam por baixo dos arcos acreditam-se livres; os que os dominam acreditam-se eternos. Ambos se enganam, como comprovam estas páginas escritas de além-túmulo.
Mas veja só: perdoe-me pelo tom de confessionário. Sou apenas um cronista sem pompa, despretensioso, que confessa dos túmulos o que de mais irônico há em viver numa cidade de exceções, onde tudo muda para permanecer igual. Não há cura para essa malária social que nos assola, apenas alívios temporários e discursos profiláticos. Resta, portanto, a sinceridade post mortem, um brinde amargo às contradições cariocas sob o céu imperial, que ofereço a vós, leitor paciente, como meu último e inútil capricho.
Nota: A crônica foi inspirada no livro "Memórias Póstumas de Brás Cubas", capítulo 24: "Curto, mas alegre" de Machado de Assis.
● Imagem: Georges Leuzinger. Rio de Janeiro, Arcos da Lapa, Santa Teresa, Glória em 1867. Instituto Moreira Salles
● Clique no link abaixo e ouça a canção "A cor smda esperança" na voz da cantor e compositor Cartola. A música ilustra a crônica.
https://youtu.be/d7RLNKs272E?si=c8nOFEUfjG82ctpQ
● Se este conteúdo lhe foi útil ou o fez refletir, considere apoiar espontaneamente este espaço de História e Memória. Cada contribuição ajuda no desenvolvimento do blog. Chave PIX: oogrodahistoria@gmail.com
Muito obrigado, com apreço.
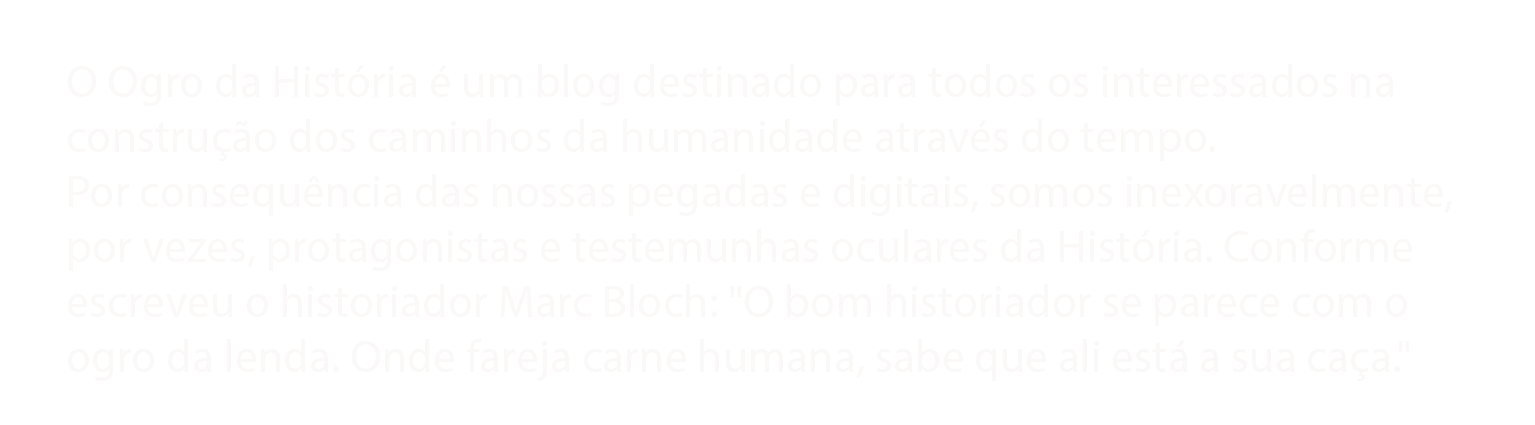



Comentários
Postar um comentário
Agradecemos o seu comentário. Isto nos ajuda no desenvolvimento deste blog.