O novo culto e seus altares luminosos
Confesso, com a modéstia que me é peculiar e a ironia que nunca me abandona, que demorei a perceber o nascimento dessa nova religião. Talvez porque, como toda fé bem-sucedida, ela não se anunciou com trombetas nem concílios; veio silenciosa, deslizando pelos bolsos, piscando nas telas, pedindo apenas um gesto simples do polegar. Quando notei, já havia templos em cada esquina — não de pedra, mas de vidro — e sacerdotes sem batina, porém munidos de filtros, slogans e sorrisos ensaiados. A liturgia não se fazia em latim nem em cânticos antigos, mas em hashtags precisas, horários estratégicos e estatísticas minuciosas, como se o sagrado tivesse aprendido marketing e contratado consultores.
Essa religião não exige jejuns, exceto o do silêncio; não impõe penitências, salvo a de não ser visto; não promete o céu, mas algo aparentemente mais palpável: aceitação. Eis o seu dogma central, repetido com fervor juvenil e convicção quase mística. Crê-se que ser curtido é ser amado, que ser seguido é ser reconhecido, e que a soma desses números conduz, por vias misteriosas, à riqueza e à felicidade. Não se trata de heresia moderna, mas de uma antiga vaidade vestida com roupas novas e muito bem ajustadas. O bezerro de ouro apenas trocou de formato, agora cabe na palma da mão e vibra quando satisfeito.
Os jovens, principais fiéis, entregam-se com devoção comovente e disciplina quase monástica. Acordam e dormem consultando os oráculos digitais, medem o valor do dia pela repercussão de uma imagem e interpretam o silêncio virtual como um castigo divino. Há, nisso tudo, uma metafísica curiosa e inquietante. O ser passa a existir apenas quando refletido no olhar alheio, ainda que esse olhar seja distraído, fugaz e anônimo. É o cogito invertido deste tempo apressado: sou curtido, logo existo, sou ignorado, logo me apago.
Os rituais são simples, porém exigentes, como convém às religiões eficazes. Escolhe-se o ângulo, ajusta-se a luz, corrige-se a imperfeição, pecado mortal, e publica-se o instante como quem oferece um sacrifício. Aguarda-se, então, o sinal da graça: o pequeno ícone em forma de coração, vermelho como uma promessa cumprida. Há êxtase nos números que sobem e um luto discreto nos que estagnam. O fiel aprende cedo que a fé é instável e que o algoritmo, divindade sem rosto, é tão caprichoso quanto implacável.
Não nego os benefícios do culto, pois toda religião precisa de milagres para sobreviver. Ela conecta distâncias, cria pontes improváveis, dá voz a quem antes murmurava no deserto e fabrica comunidades onde havia apenas solidão dispersa. Mas observo, com certa melancolia filosófica, que essa fé cobra caro. Exige a encenação constante de uma felicidade ininterrupta, o sacrifício cotidiano da intimidade e a substituição lenta do pensamento pela performance. O altar é luminoso, mas o fundo da alma permanece às escuras, silencioso e esquecido.
Os sacerdotes desse tempo, chamados influenciadores, nome revelador, pregam a boa nova da autenticidade padronizada. Ensina-se a ser único seguindo fórmulas, a ser livre obedecendo métricas, a ser espontâneo com roteiro e edição cuidadosa. A moral é simples e eficiente: quem cresce é virtuoso, quem cai é suspeito, quem desaparece é culpado. Assim a culpa se moderniza, trocando o confessionário pelo comentário público e a absolvição pela aprovação coletiva e ruidosa.
Há também os fiéis ocasionais, aqueles que não creem totalmente, mas participam por prudência social. Publicam para não desaparecer, opinam para não parecer ausentes, sorriem para não levantar suspeitas. São céticos praticantes, herdeiros de uma fé que não professam, mas reproduzem. Mesmo eles se curvam, ainda que com ironia, diante do altar portátil, pois sabem que a indiferença é o verdadeiro pecado capital desta era.
Essa religião, como todas, possui seus hereges. São poucos e discretos. Tentam viver fora das telas, cultivam o silêncio, protegem o anonimato como quem guarda uma relíquia antiga. São vistos com estranheza, às vezes com piedade. Não se compreende bem como podem existir sem testemunho público, como ousam ser sem provar. Para muitos, são quase míticos, personagens de um passado pré-digital, sobreviventes de uma era analógica.
Talvez, no futuro, algum analista atento descubra que essa religião, como tantas outras, não prometia o que podia cumprir. Talvez escreva tratados sobre a ansiedade como pecado original, a comparação como tentação permanente e o vazio como efeito colateral inevitável. Até lá, seguimos todos fiéis, uns mais devotos, outros apenas cúmplices, ajoelhados diante da tela, esperando o próximo amém em forma de curtida, na esperança íntima de que, por um breve instante, o brilho do altar ilumine também aquilo que nunca se publica. E assim o culto se expande sem fronteiras, adaptável a culturas, línguas e fuso horários, prometendo pertencimento imediato em troca de atenção contínua. Não há descanso dominical, nem noite verdadeiramente profana, pois a vigília é permanente. O fiel aprende a dormir com um olho fechado e outro atento às notificações, como sentinela de si mesmo. Cada vibração é um chamado, cada alerta uma possibilidade de redenção simbólica. Vive-se, portanto, numa espera constante, não da salvação final, mas da validação momentânea, breve e renovável, que sustenta o ânimo por algumas horas. Nesse ciclo, o tempo perde densidade e o presente se fragmenta em instantes publicáveis, enquanto o passado vira arquivo e o futuro, ansiedade. A religião dos altares luminosos não promete eternidade, mas repetição, não oferece sentido duradouro, apenas engajamento. Ainda assim, seduz, porque responde ao medo mais antigo: o de não ser visto. E enquanto houver esse medo, haverá telas acesas, polegares atentos e almas negociando silêncio por visibilidade. Talvez o verdadeiro milagre desse culto seja sua capacidade de transformar carência em virtude e exposição em dever moral. Tudo se mostra, tudo se mede, tudo se compara, até que o íntimo se torne estatística. Nesse mundo, existir é aparecer, e desaparecer é quase morrer socialmente, sem velório, sem luto, sem memória duradoura. Resta saber quanto tempo suportaremos essa fé antes de desejar novamente o silêncio, a sombra, a imperfeição e o direito humilde de simplesmente existir sem testemunhas humanas, números ou aplausos virtuais.
Nota: Ouça a canção "Anjos Tronchos" de Caetano Veloso. A letra nos permite refletir acerca deste tipo de liturgia da economia da atenção. Clica no link:
https://youtu.be/22gCVzU9WUY?si=j82v3lZkivyoPnzn
Indicação de leitura:
● Tecnofeudalismo: O que matou o capitalismo por Yanis Varoufakis
● Se este conteúdo lhe foi útil ou o fez refletir, considere apoiar espontaneamente este espaço de História e Memória. Cada contribuição ajuda no desenvolvimento do blog. Chave PIX: oogrodahistoria@gmail.com
Muito obrigado, com apreço.
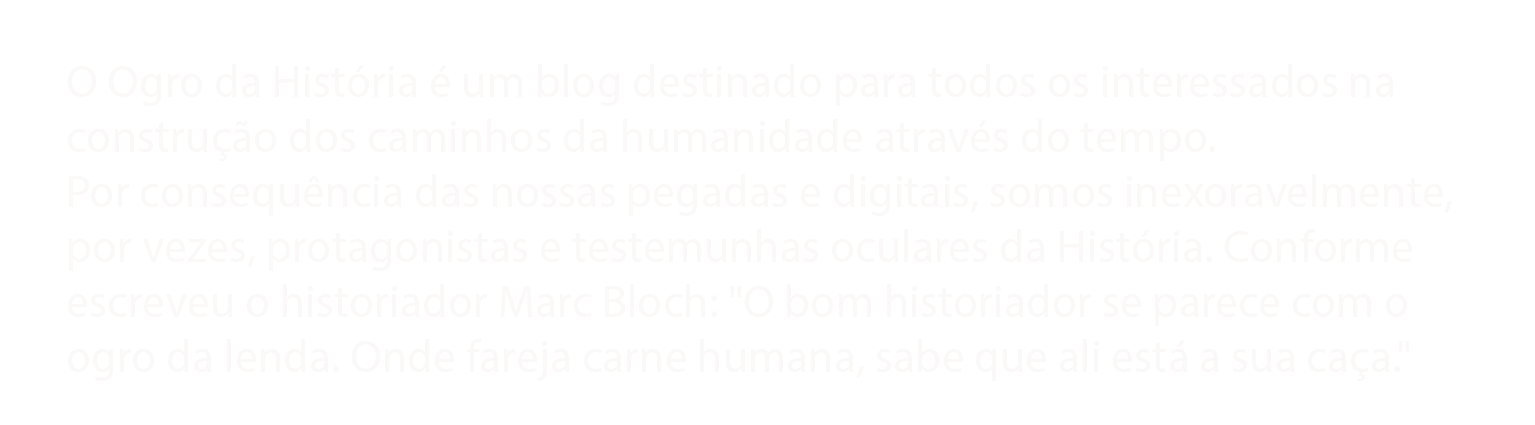



Comentários
Postar um comentário
Agradecemos o seu comentário. Isto nos ajuda no desenvolvimento deste blog.